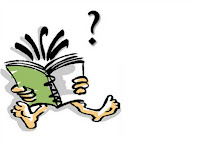|
| Obra de Donald Zolan |
Estudo do documento: PRÁTICAS COTIDIANAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - BASES PARA A REFLEXÃO SOBRE AS ORIENTAÇÕES CURRICULARES POR MARIA CARMEN SILVEIRA BARBOSA. (Parte 1 - até a página 18)
Documento escrito em especial para as professoras e professores de Educação Infantil que trabalha com a formação e a educação de crianças de 0-6 anos. Objetivo central do trabalho da autora é problematizar, inspirar e aperfeiçoar as práticas cotidianas realizadas nos estabelecimentos educacionais de educação infantil. Segundo a autora, as características da faixa etária das crianças exigem conceber um outro tipo de estabelecimento educacional e revisar alguns conceitos naturalizados em nossa sociedade sobre escola, infância, conhecimento e currículo.
 |
| Obra de Donald Zolan |
Reflexão do texto:
- Quais são as funções específicas de uma escola que atende bebês e crianças bem pequenas?
- Quais as estratégias consideradas adequadas ao trabalho pedagógico com crianças pequenas?
- Que possibilidades de conhecimento podem ser propiciadas para as crianças?
- Quais as relações de aproximação e de diferenciação dos papéis da escola e da família?
Adquira o texto completo: Estudo completo
Obs. da autora: "As pesquisas no campo educacional sobre a pedagogia para a educação de bebês e crianças bem pequenas em ambientes coletivos e formais são recentes no país e quase inexistem publicações que abordem diretamente a questão curricular nesse primeiro nível da educação básica. Geralmente as legislações, os documentos, as propostas pedagógicas e a bibliografia pedagógica privilegiam as crianças maiores e têm em vista a adaptação da educação infantil ao modelo convencional que orienta os sistemas educacionais no país."
 |
| Obra de Donald Zolan |
PONTOS RESSALTADOS PARA ANÁLISE
- Reflexão sobre as diferentes infâncias (indígenas, quilombolas, ribeirinhas, urbanas, do campo, da floresta);
- Definição das bases curriculares nacionais;
- Constituição de pedagogias específicas para essa etapa da educação básica;
- Afirmação da importância do trabalho docente a ser realizado em creches e pré-escolas por professores com formação específica.
1. A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOS CONTEXTOS CONTEMPORÂNEOS
1.1 Uma sociedade em transformação
- As mudanças na sociedade são contínuas, porém nunca na amplitude e velocidade como estão acontecendo agora.
A internet nos propiciou inúmeras facilidades, as pessoas estão conectadas em tempo real, as informações são difundidas rapidamente, assim como são facilmente transformadas e disseminadas.
Antes, se davam de modo lento e eram incorporadas gradativamente pelas populações através das gerações. A partir da segunda metade do século XX, as alterações começaram a se intensificar e a incidir em diferentes campos da vida, sejam elas tecnológicas, científicas, religiosas e políticas o que vem causando alterações no comportamento humano.
Mídia e consumo - responsável por estabelecer um estilo de vida, onde sempre há uma nova necessidade a ser atingida, um novo objeto a ser consumido.
A interação com o mundo promove significativas mudanças e as mídias passam a configurar novas maneiras para o indivíduo utilizar e ampliar suas formas de expressão.
Mudanças no tipo de vida: pautado na incerteza, provoca nas pessoas a necessidade de tranquilidade e vínculos fortes com intuito de evitar a ansiedade causada pela instabilidade.
Sociedades mais tradicionais ofereciam a segurança, a proteção e a estabilidade, em contra partida dificultavam, e muitas vezes impediam, as transformações, a criatividade e a liberdade.
Porém na atualidade, são enfatizadas para os indivíduos, suas infinitas possibilidades, suas capacidades de pensar e realizar, em curto prazo, desejos e projetos. Todavia, são abandonados à solidão, à exclusão, à desigualdade social e econômica, à competitividade.
 |
| Ricardo Ferrari – Quintal (2013) |
👉 O que é o processo educacional?
O processo educacional, principalmente aquele presente nos sistemas de ensino, é uma decisão política acerca do futuro de uma sociedade. É preciso pensar projetos educacionais que possam, em sua complexidade, dar conta tanto das necessidades de segurança, proteção e pertencimento, quanto das de liberdade e autonomia.
👉Qual a função da educação infantil nas sociedades contemporâneas?
Possibilitar a vivência em comunidade, aprendendo a respeitar, a acolher e a celebrar a diversidade dos demais, a sair da percepção exclusiva do seu universo pessoal, assim como a ver o mundo a partir do olhar do outro e da compreensão de outros mundos sociais.
Os pais precisam compreender que a escola não é depósito de crianças, e que os professores não são responsáveis por ensinar valores morais e menos ainda, professoras de creche/auxiliares não são babás. O enfoque da presença da criança não é assistencialismo. Nesse espaço educativo, as crianças aprendem rotina, socialização, compartilhar e tantos outros quesitos fundamentais para cidadania.
👉Como deve ser a concepção dos processos educacionais?
É preciso pensar projetos educacionais que possam, em sua complexidade, dar conta tanto das necessidades de segurança, proteção e pertencimento, quanto das de liberdade e autonomia.
As atividades propostas devem ser bem planejadas, não tem como objetivo ocupar as crianças sem intencionalidade, vai muito além. Educar e não 'catequizar' ou 'manejar'. Desenvolver potencialidades, promover autoestima e autoconhecimento.
👉Qual a função da educação infantil nas sociedades contemporâneas?
Possibilitar a vivência em comunidade, aprendendo a respeitar, a acolher e a celebrar a diversidade dos demais, a sair da percepção exclusiva do seu universo pessoal, assim como a ver o mundo a partir do olhar do outro e da compreensão de outros mundos sociais.
👉No que compromete a função da educação infantil nas sociedades contemporâneas?
Implica em uma profunda aprendizagem da cultura através de ações, experiências e práticas de convívio social que tenham solidez, constância e compromisso, possibilitando à criança internalizar as formas cognitivas de pensar, agir e operar que sua comunidade construiu ao longo da história.
👉O que pode ser feito como intervenção na educação infantil?
Práticas sociais que se aprendem através do conhecimento de outras culturas, das narrativas tradicionais e contemporâneas que possam contar sobre a vida humana por meio da literatura, da música, da pintura, da dança. Contação de histórias coletivas de outras culturas que, ao serem ouvidas, se encontram com as histórias pessoais, alargando os horizontes cognitivos e emocionais através do diálogo, das conversas, da participação e da vida democrática.
👉Já nascemos sabendo nos relacionar com outras pessoas?
Embora sejamos biologicamente sociais, precisamos, no convívio, aprender as formas de relacionamento. Portanto, não nascemos sabendo nem mesmo socialização, a desenvolvemos através de convívio aprendemos formas de relacionamentos.
👉Qual papel da Educação Infantil nesse processo de interação social?
É uma grande tarefa da educação da primeira infância, realizar nas suas práticas cotidianas embasadas no que a cultura universal oferece de melhor para as crianças.
👉Como ocorrem as concepções de educação?
Não acontecem simplesmente na transmissão da informação, neutra e direta. Ocorrem através das tarefas do dia-a-dia que realizamos junto com as crianças, produzindo e veiculando concepções de educação que são efetivadas nas vivências e ações cotidianas nos estabelecimentos de educação infantil com um significado ético. Por exemplo: por intermédio de conversas, da resolução de conflitos, dos diálogos, da fantasia, das experiências compartilhadas com intuito de tornar o mundo mais acolhedor.
👉E se as concepções de educação fossem ocorridas de forma simples, neutra e direta?
Já teríamos resolvido a crise educacional brasileira, mas se efetivam em vivências e ações cotidianas nos estabelecimentos de educação infantil, pois têm significado ético.
👉 Processo de socialização contextualizado:
Nas cidades, vilas e aldeias pequenas, os comportamentos bastante padronizados e controlados socialmente. Assim, os processos de socialização das crianças eram bem definidos e sintonizados com o contexto de sua cultura local. Após longo convívio, basicamente com familiares e vizinhança, as crianças tinham uma segunda experiência de socialização apenas ao ingressarem no ensino fundamental (média de sete anos), recebiam as influências de suas tradições familiares e da vizinhança, ampliavam suas vivências com as experiências que a escola e a comunidade (convívio com professoras, colegas e outras famílias) poderiam oportunizar.
Na escola tinham a oportunidade de ter contato com o universo científico, artístico, cultural, tecnológico, ou ainda acesso a conhecimentos, experiências e vivências que não seriam possíveis em suas famílias. Em muitos casos, esses conhecimentos e experiências auxiliavam as crianças a problematizarem seus modos de ser, pensar, fazer. A escola ainda cumpre esse papel em muitos lugares do Brasil, principalmente em regiões como campos, florestas, áreas ribeirinhas ou em pequenas cidades do interior ou do litoral.
👉 Como se dá, atualmente, a socialização das crianças?
Ao ingressarem na escola, começam a conviver com adultos e outras crianças que não pertencem às suas famílias e que possuem hábitos, modos de falar, brincar e agir algumas vezes muito diferentes dos seus.
Nas relações que estabelecem com muitas pessoas e nas experiências concretas de vida diferenciadas, com grande presença dos meios de comunicação social que trazem mundos distantes para dentro das casas. Isso abre perspectivas para a aprendizagem de configurações de outros modos de socialização. As crianças, com experiências ampliadas, aprendem a viver e a conhecer um mundo permeado pela pluralidade desde muito cedo. Desse modo, se faz com a construção de identidade(s) múltipla(s) e com possibilidades de pertencimento ampliadas.
👉Além das mudanças sociais, que provocaram outro modo de analisar a socialização das crianças, também há as concepções sobre os processos verticais de socialização que vêm sendo colocados em discussão nas últimas décadas.
👉 Por que durante muitos anos, a socialização foi percebida como um processo hierárquico?
Porque possuía uma direção vertical descendente, na qual os adultos ocupavam o vértice superior e as crianças o inferior. O sentido era sempre de cima para baixo. Nessa perspectiva, as crianças chegavam ao mundo sem nada saberem, concebidas como seres incapazes, enquanto os adultos eram responsáveis por apresentarem o mundo para elas. Essa situação deveria resultar na incorporação passiva de um mundo dado e definitivo, desconsiderando as possibilidades de resistência das crianças a esse modelo. Essa visão de socialização pressupunha uma concepção de aprendizagem como um movimento do mundo externo em direção ao interno dos seres humanos.
Porque possuía uma direção vertical descendente, na qual os adultos ocupavam o vértice superior e as crianças o inferior. O sentido era sempre de cima para baixo. Nessa perspectiva, as crianças chegavam ao mundo sem nada saberem, concebidas como seres incapazes, enquanto os adultos eram responsáveis por apresentarem o mundo para elas. Essa situação deveria resultar na incorporação passiva de um mundo dado e definitivo, desconsiderando as possibilidades de resistência das crianças a esse modelo. Essa visão de socialização pressupunha uma concepção de aprendizagem como um movimento do mundo externo em direção ao interno dos seres humanos.
Nos últimos anos, essa relação unidirecional do processo de socialização passou a ser questionada. Porque os conhecimentos científicos que temos hoje sobre os bebês indicam que, desde muito pequenos, mesmo antes do nascimento, já estão em relação com o mundo. Também as mudanças nos costumes demonstraram que as crianças não são passivas: elas observam, tocam, pensam, interagem o que nos possibilita afirmar que elas sempre foram ativas em suas interações com as pessoas adultas e os meios em que estavam situadas, mas a sociedade não reconhecia essa participação.
 |
| Thaïs Vanderheyden |
👉 Como o mundo material e simbólico é oferecido à criança?
Através das pessoas, da cultura, dos alimentos, da natureza e é certo que ela o incorpora. Porém, a criança não o compreende a partir da lógica adulta, pois com ele se relaciona de modo particular.
Partindo desse princípio, devemos nos atentar para o olhar infantil, despido de malícia adulta. Mudar nosso olhar e tentar compreender como as crianças enxergam o mundo, perceber sua naturalidade ao lidar com o mundo. Adultos esquecem como é ser criança e tentam impor que crianças enxerguem o mundo adulto antes do tempo.
👉 Como as crianças compreendem esse mundo material e simbólico?
As crianças, em suas brincadeiras, em seus modos de falar, comer, andar, desenhar, não apenas se apropriam com o corpo, a mente e a emoção daquilo que as suas culturas lhes propiciam, mas investigam e questionam criando, a partir das tradições recebidas, novas contribuições para as culturas existentes.
👉Ao falarmos de socialização, estamos também discutindo uma compreensão sobre processos de aprendizagem. Como se dá essa relação?
Ideologia limitada e ultrapassada: Pregava que as teorias de aprendizagem, elaboradas ao longo dos anos, subsidiaram as idéias de socialização e, através delas, também eram pensadas. Compreendiam que, ou os seres humanos nasciam fadados a um destino (independentemente das ações e experiências que tivessem) ou ao nascer, não possuíam nenhuma capacidade nem referência e que o mundo ao seu redor as modelava.
Ideologia Interacionista e dialógico: Promove tanto as mudanças no conceito de socialização quanto no conceito de aprendizagem. Elas estão enraizadas em outros modelos de compreensão dos seres humanos e das relações sociais. Pensar os seres humanos como sujeitos de interações e a sociedade como uma democracia exige conceber a socialização e a aprendizagem numa relação dialógica.
👉A família, por exemplo, foi uma das instâncias de socialização que sofreu grandes mudanças nos modos de ser concebida ao longo dos três últimos séculos no ocidente.
Família tradicional ou nuclear: Considerada o modelo adequado para avaliar, compreender e pesquisar as famílias. Comuns em livros didáticos, fotos de propagandas e nos demais discursos que possuem vitalidade em nossa sociedade.
Pseudo-famílias Margarina: Usadas na televisão, propaganda e também na religião e da justiça – podemos verificar que as famílias são representadas como grupos de pessoas, geralmente ligadas por laços sanguíneos, que incluem um homem, uma mulher e crianças, na maioria das vezes um menino e uma menina. O homem é o responsável pelo sustento material da família e a mulher pela reprodução e organização da vida familiar.
Apesar dessa família não ter tido no Brasil uma existência real, ela ainda está presente em grande parte do imaginário nacional.
Isso vai de encontro com a realidade social, mas por que as pessoas ainda não aceitaram que o quadro "Família Margarina" não existe mais?
Contudo, se olharmos com atenção ao nosso redor e se lermos atentamente as estatísticas, veremos que essa composição, além de não ser natural, nunca foi predominante, e vem sendo substituída por uma pluralidade radical de formações familiares como a monoparentalidade e a homoparentalidade, tornando explícito o diálogo transformativo inerente aos processos sociais.
A realidade das famílias no mundo vem sofrendo modificações, ainda não plenamente aceitas - ainda há muita resistência quanto à quebra de padrão (imaginário), o que muitas vezes alimenta apenas a intolerância e a violência institucional.
Se as mulheres lutaram, e lutam ainda, para romper com o modelo único de família e a fixidez do lugar social a elas determinado, foi a partilha da educação das crianças com a escola que pode tornar viável novas configurações e organizações familiares. Ou seja, a igualdade dos direitos entre homens e mulheres na sociedade só poderá se consolidar se as instituições sociais tiverem novas significações. Dentre as instituições sociais que mais contribuíram para a possibilidade de constituição de novas oportunidades para as mulheres na sociedade e de formas alternativas de realizar a maternidade estão as creches e as pré-escolas. Afinal, elas desempenham um importante papel na liberação das mulheres como principais responsáveis pela educação das crianças pequenas.
CRECHES - Objetivo primário: foram criadas pelas necessidades econômicas do capitalismo industrial com o objetivo central de substituir as atividades maternas enquanto as mães trabalhavam, tornaram-se, nesse momento, parceiras das mulheres na sua busca pelo exercício de outras funções sociais.
Reinvenção das escolas de Educação Infantil:
As escolas infantis foram sendo reinventadas, desde meados do século XX, para se tornarem colaboradoras dos homens e das mulheres contemporâneos na educação e cuidado das crianças. O modo como os estabelecimentos de educação infantil são organizados já demonstram o quanto foram pensados para, além de propiciarem às crianças espaços para as aprendizagens, realizar, em um espaço público e de vida coletiva, ações para o cuidado e a educação das crianças que sempre foram consideradas como da vida privada: a alimentação, a higiene e o repouso.
IMPRESCINDÍVEL A INTEGRAÇÃO: FAMÍLIA, SOCIEDADE E ESCOLA
A situação de compartilhar a educação das crianças traz a necessidade social de um diálogo contínuo entre família, sociedade e escola. Ambas necessitam determinar os papéis de cada uma – o que compete à escola e o que compete às famílias – considerando a impossibilidade de haver uma regra única. As atribuições nascem das necessidades e das possibilidades de ambas as instituições e do diálogo entre elas. A isso denominamos colaboração entre as partes.